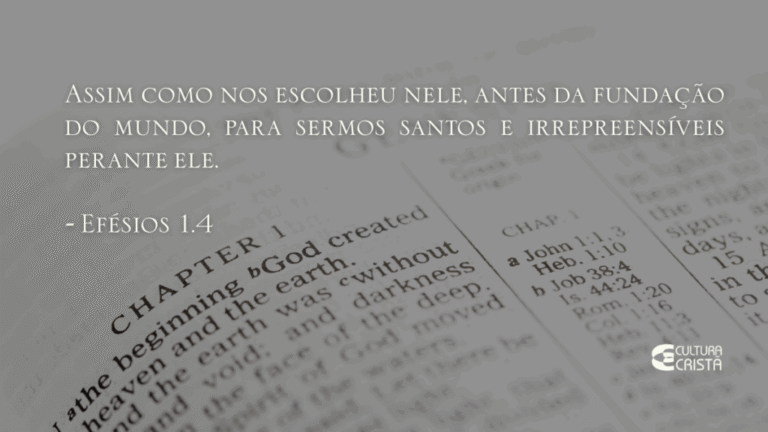A Leitura da Cristologia do Concílio de Niceia – Uma aproximação Reformada
Introdução Com frequência o nosso corpo cria seus anticorpos devido à invasão de corpos estranhos que o atacam trazendo infecções e enfermidades das mais variadas. Parece-me que o princípio tradicional da vacina é justamente este: inocular em nosso corpo uma pequena parte de um vírus ou bactéria (mortos ou enfraquecidos) a fim de que o…
Introdução
Com frequência o nosso corpo cria seus anticorpos devido à invasão de corpos estranhos que o atacam trazendo infecções e enfermidades das mais variadas.
Parece-me que o princípio tradicional da vacina é justamente este: inocular em nosso corpo uma pequena parte de um vírus ou bactéria (mortos ou enfraquecidos) a fim de que o nosso organismo seja estimulado a produzir anticorpos e se prepare para identificar e destruir um ataque mais intenso da doença caso venha a ser infectado.
Processo semelhante ocorre com a presença de um corpo estranho, uma pedrinha, dentro da ostra que responde à irritação causada, secretando camadas de nácar (madrepérola) ao redor do corpo estranho, formando assim a pérola.
As adversidades podem se constituir em instrumentos que facultem oportunidades de criação, resposta e maturidade.
Após o eloquente e desafiante sermão de Estevão e, a sua consequente morte por apedrejamento (At 7.1-60) – a forma judaica de executar os culpados de blasfêmia (Lv 24.16; Jo 10.33) – o grupo inquisidor estimulado por esta atitude assassina, promoveu “Grande perseguição contra a igreja de Jerusalém” (At 8.1), com a permissão do sumo sacerdote (At 8.3; 9.1,2).
O termo usado em Atos 8.1 para descrever a “perseguição” apresenta a ideia de uma caça violenta e sem trégua. Lucas, inspirado por Deus, pinta este quadro de forma mais forte, adjetivando “grande”, indicando assim, a severidade da perseguição. Saulo foi o grande líder desta ação contra os cristãos (At 8.1; 9.1,2; 22.4,5; 26.9-12).
Nesta primeira grande perseguição, vemos claramente a direção divina:
1) Os apóstolos não foram dispersos, permanecendo em Jerusalém (At 8.1), podendo assim, sedimentar a mensagem do evangelho em Jerusalém.
2) Até agora a Igreja não havia cumprido a totalidade da ordem divina, que dizia: “Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (At 1.8). Os apóstolos, ao que parece, não haviam saído dos limites da Judeia com o objetivo de proclamar o evangelho.
O verbo usado para descrever a “dispersão” – diaspei/rw – (At 8.1,4) está ligado à sementeira e semeadura, sendo empregado unicamente por Lucas no Novo Testamento e somente para descrever este episódio (*At 8.1,4; 11.19). Assim, por intermédio da perseguição, os discípulos saíram de Jerusalém levando as boas novas do evangelho (At 8.4), semeando a semente do Evangelho de Cristo (1Pe 1.23).
Filipe, um dos diáconos eleitos (At 6.5), pregou em Samaria e muitos se converteram (At 8.5-8), posteriormente, mediante a direção do Espírito, evangelizou (At 8.26), um judeu etíope, que era tesoureiro da rainha Candace – título esse semelhante ao de “Faraó”, não indicando o nome próprio de uma pessoa – que se converteu, sendo então batizado (At 8.38). Após o batismo do etíope, “ Filipe veio a achar-se em Azôto; e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaréia” (At 8.40).
Outro fato que evidencia a ação providencial de Deus na perseguição de Jerusalém está registrado em Atos 11.19-21, onde lemos no verso 19: “… Os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia”. Nos versos 20 e 21, temos ainda a proclamação expandindo-se: “Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor”.
Vemos, desta forma, que o evangelho estava sendo disseminado, tendo como elemento gerador uma perseguição que parecia ser fatal para a Igreja de Cristo; entretanto Deus a redundou em bênçãos para o seu povo (Gn 50.20/Rm 8.28).
Deus, como senhor da história, utiliza-se de recursos muitas vezes surpreendente para nós. Devemos, portanto, aproveitar as oportunidades com as quais nos deparamos. Cada obstáculo pode se constituir num meio de testemunho.
É fundamental que não percamos a dimensão desta realidade. Cada circunstância oferece uma ocasião para reflexão, ação e redimensionamento. Cada época tem os seus desafios, dificuldades e oportunidades. É necessário que roguemos a Deus que nos dê uma compreensão correta e uma ação eficaz dentro das circunstâncias que Ele mesmo nos faculta.
Os discípulos souberam compreender isso. A difusão do Evangelho é demonstrada mais tarde, ainda no período neotestamentário, por intermédio das Epístolas de Tiago e Pedro, sendo a de Tiago destinada “…. às doze tribos que se encontram na Dispersão” (Tg 1.1) e a de Pedro, “aos eleitos, que são forasteiros da Dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, e Bitínia” (1Pe 1.1. Leia também, At 17.6).
1. A Heresia e seu possível valor social
A heresia por vezes tem um sentido social. Ela contribui involuntariamente para que a igreja desperte de certo comodismo sentada sob sua herança sem buscar uma compreensão mais ampla para vivenciá-la, transmiti-la e, quando for o caso, aperfeiçoá-la.
Ilustro com a questão do reconhecimento do cânon bíblico. Humanamente falando, foi Márcion (85-160 AD.) com a elaboração de um cânon mutilado que impulsionou a igreja a trabalhar na delimitação do cânon bíblico como temos hoje com os seus 66 livros inspirados.
As exposições concernentes à Trindade estão relacionadas à compreensão equivocada da Pessoa de Cristo e do Espírito Santo. O desenvolvimento da compreensão Cristológica por parte da igreja foi determinante na evolução da teologia do Espírito Santo e essa contribui para aquela de forma retroalimentadora.
A afirmação de Irineu (c. 130–200 d.C.), no final do segundo século, de que a Igreja de Deus, espalhada por toda a face da terra, declarava unanimemente sua fé trinitária − conforme a recebeu dos discípulos − é profundamente reveladora. Ele resume essa confissão nos seguintes termos: “a fé em um só Deus, Pai onipotente, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto nele existe; em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado para nossa salvação; e no Espírito Santo que, pelos profetas, anunciou a economia de Deus”.[1] E conclui: “Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca”.[2]
Essa imagem vívida − de uma Igreja geograficamente dispersa, mas doutrinariamente unida − sintetiza com força a unidade teológica da Igreja nos primeiros séculos. Mesmo diante de perseguições e heresias, a fé apostólica permaneceu coesa e reconhecível. A citação de Irineu não apenas ilustra a consistência da proclamação cristã, mas também serve como testemunho da fidelidade da Igreja à revelação bíblica, antes mesmo da formalização dos grandes concílios.
Orígenes (c. 184-254), a despeito de outros equívocos subordinacionistas, reconhece a divindade trinitária: “Por isso, tudo o que for uma propriedade do corpo, não pode ser afirmado nem sobre o Pai nem sobre o Filho; mas o que pertence à natureza da divindade é comum ao Pai e ao Filho”.[3]
O Credo Apostólico, ao ser analisado estatística e teologicamente, evidencia de modo contundente que as declarações a respeito da Pessoa e Obra de Cristo são mais expressivas e mais completamente elaboradas do que as referentes ao Pai e ao Espírito. O Credo – ainda que as suas três divisões sejam dedicadas a cada uma das Pessoas da Trindade –, demonstra de forma eloquente ser a Pessoa de Cristo o seu tema.
O Concílio de Niceia pode ser arrolado nessa temática. Nos quatro primeiros séculos da Era Cristã uma das grandes questões tratadas era: Jesus chamado Cristo é Deus?
Niceia (325), Éfeso (431) e Calcedônia (451) em níveis diferentes, considerando as contribuições anteriores e as novas heresias, se propuseram a responder tal questão.
2. O Concílio de Niceia e a questão Teológica
A analogia da vacina e da ostra ilustra como elementos externos − inicialmente nocivos ou incômodos − podem desencadear respostas vitais e transformadoras. Da mesma forma, na história da Igreja, perseguições e heresias funcionaram como catalisadores providenciais, impulsionando o amadurecimento doutrinário e a expansão missionária. Sob a soberania de Deus, o sofrimento não apenas purifica, mas também fertiliza a fé. Este estudo parte dessa perspectiva para examinar como o Concílio de Niceia (325) emergiu como resposta teológica à crise ariana, consolidando a confissão cristológica e influenciando profundamente a tradição reformada.
Na maioria das vezes não temos a dimensão exata da importância do que estamos realizando dentro do processo histórico. Creio que esse foi o caso dos conciliares de Niceia.
Até o quarto século da Era cristã, as decisões conciliares tinham uma representação e alcance apenas local. Acompanho aqui Turner (1860-1930), em sua intuição de que o primeiro Concílio Ecumênico pode ser considerado como a abertura de um novo capítulo na história da Igreja, notadamente na história dos credos. Os credos anteriores possivelmente estavam mais relacionados aos catecúmenos; o de Niceia era mais para os bispos.[4]
Diante da crescente influência do arianismo, a Igreja foi levada a um ponto de inflexão. A necessidade de afirmar a plena divindade de Cristo culminou na convocação do Concílio de Niceia, onde a ortodoxia cristológica seria definida com precisão e vigor.
O Credo Niceno primitivo, foi elaborado no Primeiro Concílio Ecumênico de Niceia[5] (atual cidade de Iznik, Turquia) na Bitínia no ano 325. Este Concílio teve uma representação significativa das igrejas do Oriente. Mais de 300 bispos; cerca de 1/6 de todos os bispos (estima-se a existência de 1800 bispos em toda a Igreja) participaram desse Concílio.
O Concílio foi convocado e subvencionado pelo Imperador Constantino – quem presidiu a sessão inaugural, fazendo um discurso sobre o perigo da dissensão dentro da Igreja, tendo também, ampla participação no decorrer do mesmo[6] – visando tratar da questão Ariana que prejudicava a união da Igreja e, consequentemente, do Império. Niceia, depois de amplo debate, declarou a igualdade essencial entre o Pai e o Filho.
A principal conquista do concílio foi a formulação do Credo Niceno, que afirmava que Cristo era “da mesma substância” (homoousios) que o Pai, reafirmando a doutrina da Trindade.
Do ponto de vista teológico, o concílio teve implicações imensas. Ele ajudou a estabelecer um padrão de ortodoxia cristã que resistiria ao tempo e seria um baluarte contra heresias futuras. A formulação do credo também promoveu a unidade doutrinária em um momento crítico para a Igreja, que enfrentava divisões internas e pressões externas.
Historicamente, o Concílio de Niceia marcou uma nova fase da relação entre a Igreja e o Império Romano. Com o patrocínio de Constantino, foi a primeira vez que o Estado desempenhou um papel significativo na resolução de questões doutrinárias cristãs, estabelecendo um precedente para futuros concílios e para a interferência política em assuntos eclesiásticos.
A heresia ariana e seu perigo para a integridade da fé cristã
O arianismo é derivado de seu maior representante, Ário (c. 260-336), natural da Líbia e educado em Antioquia da Síria, tendo como mestre a figura enigmática de Luciano de Antioquia († 312), que teria sido discípulo de Paulo de Samosata.
Teve um ministério ativo na Igreja, tendo sido Diácono, Presbítero e, por fim, responsável pela Igreja em Baucalis, em Alexandria. No entanto, devido às suas ideias da Trindade, considerando o Filho inferior ao Pai, tendo participado de um debate público, foi excluído da comunhão da igreja por meio de um Concílio local (c. 318-320).
Os ensinamentos de Ário foram condenados e ele, foi deportado para o Ilírico. No entanto, mesmo no exílio ele continuou escrevendo, aumentando consideravelmente a sua influência, contando sempre com um bom número de amigos fiéis, sendo o grande articulador político do grupo ariano, o bispo Eusébio de Nicomédia († 342) que, com habilidade, procurou reunir os simpatizantes das ideias arianas.
Em 335, num encontro com Constantino (274-337), Ário subscreveu uma confissão considerada pelo Imperador “ortodoxa”, que na realidade é mais eloquente no seu silêncio.[7] Em 336/337, quando jazia no seu leito de morte em Constantinopla, foi solenemente readmitido à comunhão da Igreja pelo Sínodo de Jerusalém.
O Arianismo a despeito de sua condenação em Niceia, juntamente com os anátemas emitidos por este Concílio, desfrutou de ampla aceitação no quarto século, só começando a perder força no Concílio de Constantinopla (381), quando a posição de Niceia foi reafirmada; no entanto, o arianismo permaneceu vivo até o final do século sétimo.
Ário foi influenciado pela doutrina trinitária de Orígenes que considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo como três realidades espirituais subsistentes subordinadas uma à outra. O ponto focal de Ário, é de que há um só Deus (Pai) não-gerado, sem começo, único, verdadeiro, único detentor de imortalidade.
O Concílio de Niceia afirmou que o Filho é (o(moou/sioj) homoousios com o Pai − ou seja, “da mesma substância ou natureza” ou “da mesma essência”. Essa expressão foi escolhida justamente para combater o arianismo, que defendia que o Filho era (o(moio/usioj) homoiousios, termo que significa “de natureza ou substância semelhante”.
A diferença entre essas duas palavras gregas está em uma única letra − o iota − mas representa uma distinção teológica profunda: enquanto homoousios sustenta a plena divindade de Cristo, homoiousios implica que Ele é inferior ao Pai, sendo apenas semelhante em natureza. Essa pequena variação linguística marca a fronteira entre a ortodoxia cristã e uma cristologia comprometida; entre um cristianismo bíblico e um cristianismo forjado pela imaginação do homem.
Desta premissa, como observa Kelly (1909-1997),[8] decorrem quatro outras:
1) O Filho é uma criatura; uma criatura perfeita, distinta da criação, mas que veio à existência pela vontade do Pai;
2) Como criatura, o Filho teve um começo. Logo, a afirmação de que Ele era coeterno com o Pai, implicaria na existência de dois princípios, o que assinalaria uma negação do monoteísmo;
3) O Filho não tem nenhuma comunhão substancial com o Pai. Ele é uma criatura que recebeu o título de “Palavra” e “Sabedoria” de Deus porque participa da Palavra e Sabedoria essenciais;
4) O Filho está sujeito a mudanças e ao pecado, e poderia cair como o diabo caiu. Contudo, Deus prevendo a sua firmeza de caráter, agiu preventivamente com a Sua graça.
A presença de Atanásio
Se por um lado o arianismo desfrutou de boa aceitação devido ao grande número de seguidores influentes e a tolerância explícita do imperador – que desejava a todo custo manter a unidade do império –, ele encontrou um adversário perseverante que, apesar da pequena estatura, tornou-se um gigante na defesa da ortodoxia bíblica: Atanásio (c. 296-373), o jovem bispo de Alexandria (328-373), que mesmo sendo perseguido e exilado diversas vezes, conseguiu exercer poderosa influência na teologia ocidental, preservando a unidade da igreja e uma sã teologia bíblica, sustentando a divindade e a humanidade de Jesus.
Ário e seus discípulos, buscando apoio em textos tais como Jo 1.14; 3.16,18; Cl 1.15; 1Jo 4.9, ensinavam que Deus, o Pai, criou o Filho primeiro e, através do Filho criou o Espírito, os homens e o mundo. Portanto: Jesus é o primogênito do Pai e o Espírito é o primogênito do Filho. O Filho foi criado do nada. Ele veio à existência antes da fundação do mundo, mas ele não é eterno porque foi criado.[9] Daí o “chavão” ariano: “Tempo houve em que Ele não existia.” Ou, houve um “quando” o Filho não o filho não existia.”
Portanto, sendo o Filho criado, não é Deus; consequentemente, Jesus não é da mesma essência ou natureza do Pai. A atribuição de títulos “Deus” e “Filho” feita a Jesus, era apenas de cortesia, resultante da graça.
Quando perseguido em 321, Ário buscou ajuda no seu antigo e poderoso amigo e protetor, o bispo Eusébio de Nicomédia († 342) – que batizaria o imperador Constantino, moribundo em maio de 337 –, escrevendo: “Somos perseguidos porque afirmamos que o Filho tem um início, enquanto Deus é sem início (a)/narxoj)“.[10]
O historiador Walker (1860-1922), resume a posição de Ário: “Para Ário, Cristo era, na verdade, Deus em certo sentido, mas um Deus inferior, de modo algum uno com o Pai em essência ou eternidade. Na encarnação, esse Logos entrou em um corpo humano, tomando o lugar do espírito racional humano”.[11]
Posteriormente, o Concílio de Constantinopla (381), convocado pelo Imperador Teodósio I, – sendo presidido inicialmente por Melécio de Antioquia (310-381) –, constituído tradicionalmente por 150 bispos, ampliou o Credo Niceno, daí o nome de Credo Niceno-Constantinopolitano. Esse Credo “ampliado”, foi lido e aprovado no Concílio de Calcedônia (451).
Noll conclui:
O Credo Niceno tem permanecido por quase dezessete séculos como um fundamento seguro para a teologia, o culto e a devoção da igreja. Ele não somente sintetiza de modo abreviado os fatos da revelação bíblica, mas também permanece como um baluarte conta a persistente tendência humana de preferir as deduções lógicas acerca de como Deus deve ser e como Ele deve agir, ao invés das realidades concretas de sua autorrevelação. O credo reafirma poderosamente as realidades da natureza divina de Cristo, da Sua encarnação como ser humano e da obra de redenção que Ele realiza em favor do Seu povo. O ponto de transição da história cristã representado pelo Credo Niceno foi a escolha decisiva feita pela igreja, preferindo a sabedoria de Deus ao invés da sabedoria humana. Teologicamente considerada, nenhuma decisão jamais poderia ser mais importante.[12]
Séculos mais tarde, a Reforma Protestante retomaria os fundamentos da fé cristã com renovado compromisso com a autoridade das Escrituras. A firme defesa da divindade de Cristo por Atanásio, no contexto do Concílio de Niceia, ecoaria na teologia reformada, especialmente na cristologia de João Calvino. Este, por sua vez, dialogou criticamente com os concílios antigos, reconhecendo-lhes o valor teológico quando alinhados à revelação bíblica, mas rejeitando qualquer pretensão de autoridade infalível. Para Calvino, a Palavra de Deus permanecia como o único critério absoluto para julgar doutrinas e decisões eclesiásticas.
3. Calvino e Niceia
Não há nada que Satanás mais tente fazer do que levantar névoas para obscurecer Cristo; pois ele sabe que dessa forma o caminho está aberto para todo tipo de falsidade. Assim, o único meio de manter e também restaurar a doutrina pura é colocar Cristo diante de nossos olhos, exatamente como Ele é, com todas as Suas bênçãos, para que seu poder possa ser verdadeiramente percebido. – João Calvino.[13]
Calvino tinha uma visão ponderada sobre os concílios ecumênicos da Igreja.[14] Ele reconhecia o valor histórico e teológico de muitos deles, especialmente quando estavam alinhados com as Escrituras.
Por exemplo, ele respeitava o Concílio de Niceia (Ainda que reconhecesse a importância da intervenção de Constantino para que os debates voltassem aos trilhos corretos[15]) por sua defesa da doutrina da Trindade e do Credo Niceno.[16] Para Calvino, esses concílios eram úteis na medida em que ajudavam a preservar a pureza da fé cristã.
No entanto, ele também era crítico em relação a qualquer decisão ou prática dos concílios que, em sua visão, se afastasse da autoridade bíblica. Calvino acreditava que as Escrituras eram a única regra infalível de fé e prática, e que os concílios, embora importantes, não eram isentos de erros. Ele enfatizava que a autoridade dos concílios deveria ser avaliada à luz da Palavra de Deus.[17]
É necessário dizer que a aceitação de pronunciamentos de Concílios da Igreja, não significa uma visão subserviente do que foi dito. Calvino por exemplo, em diversas ocasiões emitiu crítica ao Segundo Concílio de Niceia na sua interpretação a respeito da utilização de quadros e imagens como complemento à pregação verbal do evangelho (Sl 48.8; 99.5; 132.7).[18]
Jamais houve em Calvino qualquer indicação de sua crença na infalibilidade de Concílios. Pelo contrário. Estes são falíveis e os erros são inúmeros vistos na história da Igreja.
Ainda que os Reformadores do século XVI tenham aceitado a decisão de Calcedônia – como uma maturação e combate às novas heresias −, houve uma diferença entre eles quanto a alguns detalhes que não eram de somenos importância, mas que escapam em muito ao tema de nossa abordagem.
Calvino (1509-1564) foi o Reformador que mais de perto seguiu o pronunciamento de Calcedônia. Escreveu:
Com efeito, que se diz o Verbo haver-Se feito carne (Jo 1.14), não se deve assim entender que se haja sido Ele ou convertido em carne, ou confusamente misturado à carne; ao contrário, porque no ventre da Virgem para Si escolheu um templo em que habitasse, e Aquele Que era o Filho de Deus Se fez o Filho do Homem, não mediante confusão de substância, mas mercê de unidade de pessoa. Pois, na verdade, afirmamos ser a Divindade assim associada e unida à humanidade que a cada natureza permaneça integral sua propriedade e, todavia, dessas duas constitua um Cristo único.
Se é possível encontrar alguma coisa que se assemelhe ao mistério da encarnação, a comparação com o homem é sempre apropriada. O que vemos é que o ser humano é composto de duas naturezas, sendo, porém, que uma não se mistura com a outra, cada qual retendo a sua propriedade, porque a alma não é corpo, e o corpo não é alma. Claro está que o que particularmente se diz da alma não se pode convenientemente dizer do corpo, e, paralelamente, o que se diz do corpo não pode ser dito com propriedade da alma; quanto ao homem, dele não se pode dizer o que é próprio do corpo ou da alma, separadamente dele. Finalmente, as coisas que em particular são pertencentes à alma, são transmitidas ao corpo, e as do corpo à alma, reciprocamente. Entretanto, a pessoa assim composta dessas duas substâncias é um só homem, e não muitos. Tal maneira de falar significa que há no homem uma natureza composta de duas unidades, e que, todavia, há diferença entre ambas. A Escritura fala dessa forma de Jesus Cristo. Algumas vezes Lhe atribui o que só pode ser reportado à humanidade; algumas vezes o que pertence especificamente à divindade; algumas vezes o que se aplica conjuntamente às duas naturezas unidas, e não somente a uma delas. E até exprime tão diligentemente a união das duas naturezas existentes em Jesus Cristo, que comunica a uma o que pertence à outra – maneira de falar à qual os antigos doutores davam o nome de comunicação de propriedades.[19]
Em outra passagem memorável, comentando 1Tm 3.16, diz:
A descrição mais adequada da pessoa de Cristo está contida nas palavras ‘Deus se manifestou em carne’. Em primeiro lugar, temos aqui uma afirmação distinta de ambas as naturezas, pois o apóstolo declara que Cristo é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Em segundo lugar, ele põe em evidência a distinção entre as duas naturezas, pois primeiramente o denomina de Deus, e em seguida declara sua manifestação em carne. E, em terceiro lugar, ele assevera a unidade de sua Pessoa, ao declarar que ela era uma e mesma Pessoa que era Deus e que se manifestou em carne. Nesta única frase, a fé genuína e ortodoxa é poderosamente armada contra Ário, Marcião, Nestório e Êutico. Há forte ênfase no contraste das duas palavras: Deus e carne. A diferença entre Deus e o homem é imensa, e todavia em Cristo vemos a glória infinita de Deus unida à nossa carne poluída, de tal sorte que ambas se tornaram uma só.[20]
A respeito do arianismo, concluiu de forma simples e direta:
Ora, se sinceramente e de coração tivessem, desde o princípio, confessado que Cristo é Deus, não teriam negado que ele é consubstancial com o Pai.[21]
Ário afirma que Cristo é Deus, porém, resmunga que ele foi criado e teve começo. Diz que é um com o Pai, mas, às escondidas, sussurra aos ouvidos dos seus que está unido ao Pai como os demais fiéis, ainda que em prerrogativa singular. Digas que ele é consubstancial e terás removido a máscara a um hábil dissimula dor e, no entanto, nada assim acrescentas às Escrituras.[22]
Reconheço que este vocábulo, consubstancial, não consta na Escritura. Entretanto, quando se afirma tantas vezes existir um só Deus, e, contudo, tantas vezes a Escritura declara Cristo como verdadeiro e eterno Deus, um com o Pai, que outra coisa fizeram os Pais nicenos quando declaram que ambos têm uma e a mesma essência, senão expor simples mente o sentido natural da Escritura?[23]
Ora, tomar hipóstase como equivalente de essência, como têm feito alguns intérpretes, como se Cristo em si representasse a substância do Pai, à maneira de cera impressa por um selo, não seria apenas impróprio, mas também igualmente absurdo. Pois visto que a essência de Deus, que ele a contém toda em si, é simples e indivisa – sem parcelamento nem distribuição, mas em perfeição integral –, o Filho seria impropriamente, mais ainda, até absurdamente, considerado ser manifesta representação de Deus. Mas como o Pai, ainda que seja distinto do Filho por sua propriedade, é expresso plenamente no Filho, com toda razão se diz que ele tornou sua hipóstase visível no Filho. A isso se ajusta apropriadamente o que logo em seguida se acrescenta: que o Filho é o resplendor de sua glória [Hb 1.3]. Das palavras do Apóstolo concluímos com certeza que subsiste no Pai uma hipóstase própria, que brilha no Filho. De onde também, em contrário, facilmente se infere a hipóstase do Filho, que o distingue do Pai.[24]
Também as Confissões Reformadas, seguiram a mesma interpretação de Niceia-Constantinopla-Calcedônia, apresentando obviamente novas contribuições que esclareciam certas questões da época.[25]
A Confissão de Westminster (1647), a mais madura Confissão Reformada, declara:
O Filho de Deus, a segunda Pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e da substância dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas – a Divindade e a Humanidade – foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão; essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único Mediador entre Deus e o homem. (Capítulo VIII.2).
Do mesmo modo, o Catecismo Menor de Westminster (1647):
-
-
-
- Quem é o Redentor dos eleitos de Deus?
-
-
O único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, e uma só pessoa, para sempre.[26]
-
-
-
- Como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem?
-
-
Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da virgem Maria, e nascido dela, mas sem pecado.[27]
Em resposta à questão 40 do Catecismo Maior de Westminster – “Por que era indispensável que o Mediador fosse Deus e homem em uma só pessoa?”, responde: “Para que as obras próprias de cada natureza pudessem ser aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como obras da pessoa inteira”.
Era necessário que fosse homem para que levasse sobre si a culpa do pecado, cumprindo o aspecto condenatório da Lei; e, ao mesmo tempo, que fosse Deus para poder cumpri-la, suportando a justa ira de Deus, conferindo um valor eterno ao seu sacrifício (Hb 9.23-28).
Calvino escreveu sobre isso:
Uma vez que, afinal, nem podia, como somente Deus, sentir a morte, nem como somente homem vencê-la, uniu a natureza humana à divina, para que sujeitasse à morte a fraqueza de uma delas, no afã de expiar pecados, e, lutando com a morte pelo poder da outra, nos adquirisse a vitória.[28]
Considerações finais
Ninguém jamais aprenderá o que Cristo é, ou o propósito de suas ações e sofrimentos, salvo pela orientação e ensino das Escrituras. Até onde, pois, cada um de nós deseja progredir no conhecimento de Cristo, teremos que meditar bastante e continuamente sobre a Escritura. − João Calvino.[29]
A glória de duas naturezas de Cristo numa única pessoa é tão grande que o mundo incrédulo não pode ver a luz e a beleza que irradiam dela – John Owen (c.1564-1622).[30]
Uma conceituação comum sobre pregação/evangelização, é que significa pregar a Cristo.
Creio que nenhum autêntico cristão discordaria desta proposição. A questão, que nos parece relevante no caso, é saber, de que Cristo estamos falando: do Cristo revelado nas Escrituras, Divino, Eterno, Senhor, Soberano, igual em poder, honra e glória, ao Pai e ao Espírito Santo?, ou um Cristo, criado pela “fantasia” dos cristãos primitivos, destituído de sua glória, sendo o “produto da fé” dos discípulos?
Em suma: Se queremos pregar a Cristo, devemos “definir” quem é o Cristo que anunciamos ou, em nossa perspectiva, aceitar a definição bíblica do Cristo. A questão de quem é o Cristo que cremos e pregamos permanece. Esta tem sido ao longo da história uma das indagações mais relevantes para a nossa fé.
A Cristologia se constitui no cerne de toda Teologia Cristã. Sem a centralidade de Cristo não há Evangelho, não há Boa Nova. O Evangelho é precisa e especificamente a apresentação da Pessoa de Cristo, da sua obra e ensinamentos. Por isso é que a Cristologia é o eixo da Teologia Bíblica: uma visão defeituosa da Pessoa e Obra de Cristo, determina a existência de uma eclesiologia distante das Escrituras, adequável a manipulações e interesses estranhos às Escrituras.
Bavinck (1854-1921) acentua com precisão:
A doutrina de Cristo não é o ponto de partida, mas certamente é o ponto central de todo o sistema dogmático. Todos os outros dogmas ou preparam para ela ou são inferidos dela. Nela, que é o coração da dogmática, pulsa toda a vida eticorreligiosa do Cristianismo.[31]
A consciência deste fato deve nortear o nosso labor Cristológico e, também, servir como referência e ponto de partida teológico. A Pessoa de Cristo, biblicamente compreendida, situa e norteia corretamente todo o nosso labor missionário, litúrgico e existencial, como também restaura a nossa vitalidade evangelística.
A concepção Reformada não consiste num esforço para atribuir a Cristo valores que julgamos serem próprios dele; antes se ampara no reconhecimento e na aceitação incondicional de suas reivindicações. Assim, aquilo que dizemos de Cristo, permanecerá ou não, conforme seja fiel à proclamação do Verbo de Deus.
Acredito que desde Niceia, Constantinopla e Calcedônia, passando pelos Credos Reformados, este tem sido o espírito de toda genuína Teologia bíblica.
A vivacidade da Cristologia Reformada e, por que não, da sua proclamação, estará sempre em sua fidelidade à Cristologia do Cristo, Cristologia esta, que não depende simplesmente de carne e sangue, mas de Deus usar de Sua misericórdia.
Neste afã, devemos estar atentos ao fato de que Cristo por Ele mesmo, envolve o limite do que foi revelado e o desafio do que nos foi concedido. Não podemos ultrapassar o revelado, contudo, não podemos nos contentar com menos do que nos foi dado.[32]
Procurar a Cristologia do Cristo equivale a buscar compreender em submissão ao Espírito tudo o que foi revelado para nós (Dt 29.29b/Rm 15.4). Por certo, este conhecimento não estará restrito ao Cristo Salvador, mas, além disto, nos fala do Cristo Deus-Homem; do Cristo Eterno e Glorioso. [33]
Aliás, só podemos falar do Cristo Salvador, se Ele de fato for – como é – o Deus encarnado, visto que a nossa redenção não foi levada a efeito pelo Logos divino, nem pelo “Jesus humano”, mas por Jesus Cristo: Deus-Homem.[34]
Não somos o senhor do Cristo, antes, seus servos. Não pretendamos apresentá-lo com cores da moda, com “tons pastéis”, tão saborosos em determinadas épocas.
Deste modo, devemos indagar sempre a respeito de nossas convicções e testemunho, avaliando-os por meio daquele que verdadeira e compreensivelmente diz quem é.
A teologia é serva da Escritura. Somente assim ela poderá ser relevante à Igreja e a toda a humanidade na apresentação do Cristo conforme é-nos dado conhecer nas Escrituras. O nosso testemunho, ainda que relevante, é submisso; está subordinado ao testemunho dos profetas e apóstolos. Não há relevância na especulação ou na criação do Cristo à imagem da cultura que nos circunda.
Parece-nos oportuno, lembrar a advertência de Calvino (1509-1564):
Devemos precaver-nos para que, cedendo ao desejo de adequar Cristo às nossas próprias invenções, não o mudemos tanto (como fazem os papistas), que ele se torne dessemelhante de si próprio. Não nos é permitido inventar tudo ao sabor de nossos gostos pessoais, senão que pertence exclusivamente a Deus instruir-nos segundo o modelo que te foi mostrado [Ex 25.40].[35]
Seguimos o pensamento exposto por Niceia, Constantinopla e Calcedônia. Entretanto, devemos permanecer abertos para os ensinamentos bíblicos. É evidente que entendemos que o que esses Concílios declaram está inteiramente de acordo com a Palavra de Deus – cremos na direção do Espírito na condução da formulação doutrinária na história –; entretanto, temos de nos lembrar sempre que a Bíblia e somente a Bíblia é o fundamento último de toda Teologia Sistemática.
Como bem sabemos, a Escritura é infalível, não a nossa interpretação, portanto, devemos buscar sempre nas Escrituras o sentido pleno da revelação.
Consequentemente, a autoridade daquilo que ele dizia era relativa. A autoridade do teólogo é decorrente de sua seriedade para com a Palavra e interpretação fidedigna. Somente as Escrituras são absolutas.
Berkouwer (1903-1996), demonstra a sua peculiar acuidade para entender esta questão:
Porventura a Escritura não é mais rica do que qualquer pronunciamento eclesiástico, por mais excelente e atento ao Verbo divino que este possa ser?[36]
Os limites da reflexão dogmática não estão contidos em determinada decisão histórica da Igreja, mas na exegese, ou melhor, na própria Escritura (…).
Para a Igreja prevalece a plenitude do testemunho bíblico. Segura desta plenitude inesgotável, ela poderá rejeitar, com igual direito, todo o empobrecimento da fé cristológica e todo apelo covarde ao mistério. Para ela, Calcedônia é bem menos do que essa plenitude escriturística, perene alimento da pregação. Nem por isso desmerece a confissão calcedônica; simplesmente, uma confissão não prevalece contra a riqueza e a plenitude da Bíblia.[37]
Tillich (1886-1965) está correto ao afirmar que “A vitória do arianismo teria transformado o cristianismo em apenas mais uma entre as religiões já existentes”.[38] O Cristianismo se tornaria mais uma religião pagã adorando uma criação sua; um ídolo, fruto de sua imaginação.[39]
O Concílio de Niceia permanece como um marco teológico incontornável na história da Igreja. Ao afirmar a consubstancialidade do Filho com o Pai, não apenas preservou a doutrina da Trindade e a integridade do Evangelho, mas também lançou fundamentos que seriam retomados e aprofundados pela Reforma Protestante.
A tradição reformada, ao reconhecer o valor dos concílios quando submetidos à autoridade das Escrituras, reafirma que a ortodoxia cristã nasce da fidelidade à revelação divina − e não de especulações humanas.
Calvino e os reformadores acolheram com discernimento o legado de Niceia, valorizando sua clareza cristológica diante das heresias, sem jamais atribuir infalibilidade a decisões conciliares.
Em tempos de relativismo teológico, reafirmar a centralidade do Cristo bíblico − verdadeiro Deus e verdadeiro homem − é mais que um dever acadêmico: é uma urgência pastoral. A missão da Igreja, sua adoração e proclamação só serão legítimas se enraizadas nesse Cristo.
Esse legado nos convoca à reverência, à gratidão e a um compromisso doutrinário, ético e vivencial, lembrando-nos de que toda teologia autêntica deve brotar da Palavra, moldar nossa vida e conduzir-nos à glória de Deus. A Ele, toda glória. Amém.
Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa
________________________________________________________________
[1] Irineu, Irineu de Lião, São Paulo: Paulus, 1985, I.10.1. p. 61-62.
[2] Irineu, Irineu de Lião, I.10.2. p. 62. Sobre o trabalho trinitário, Veja-se: Ibidem., IV.20.1,3; V.6.1.
[3] Origin, Origen de Principiis, I.1.8. In: Alexander Roberts; James Donaldson, eds. The Ante-Nicene Fathers. 2. ed. Peabody, Massachusetts: Eerdmans, 1995, v. 4. p. 245.
[4] Cf. Cuthbert H. Turner, History and Use of Creeds and Anathemas in the Early Century of the Church, 2. ed. London: Society for Promoting Christian knowledge, 1910, p. 9, 24.
[5]Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History, I.13. In: P. Schaff; H. Wace, eds. Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, (Second Series), Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 1978, v. 2, p. 19. (Doravante citado como NPNF2)
[6]Cf. Eusebius, The Life of Constantine The Great, III.12. In: NPNF2., v. 1, p. 523.
[7]Veja-se o texto da sua confissão In: Socrates Scholasticus, The Ecclesiastical History, I.26: In: NPNF2., v. 2, p. 28-29; Salaminus Hermias Sozomen, The Ecclesiastical History, I.27: In: NPNF2., v. 2, p. 277-278. O texto grego está reproduzido In: P. Schaff, The Creeds of Christendom, 6. ed. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, (Revised and Enlarged), 1977, v. 2, p. 28-29.
[8] Veja-se: J.N.D. Kelly, Doutrinas Centrais da Fé Cristã: Origem e Desenvolvimento, São Paulo: Vida Nova, 1994, p. 172-174.
[9] Ver: Louis Berkhof, História das Doutrinas Cristãs, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1992, p. 78.
[10] Ário a Eusébio, In: Socrates Scholasticus, Ecclesiastical History, I.5. NPNF2., v. 2, p. 3.
[11] W. Walker, História da Igreja Cristã, São Paulo: ASTE., 1967, v. 1, p. 158.
[12] Mark A. Noll, Momentos Decisivos na História do Cristianismo, São Paulo: Cultura Cristã, 2000, p. 63-64.
[13]John Calvin, Calvin’s Commentaries, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1981 (Reprinted), v. 21, (Cl 1.12), p. 145-146.
[14]Veja-se: João Calvino, As Institutas, IV.9.8.
[15] Veja-se: João Calvino, As Institutas, IV.9.10.
[16]Tratando de uma disputa surgida em 1537, no Sínodo de Lausanne, quando Calvino e Farel (1489-1565) foram acusados de arianismo por um teólogo que migrou para o protestantismo e depois voltou ao catolicismo, Peter Caroli (1480-1545). Farel e Calvino foram absolvidos e Caroli acusado de calúnia e considerado indigno do ministério.
Schaff (1819-1893) atribui a Calvino a expressão latina “Carmen cantillando magis aptum, quam confessionalis formula” − que poderia ser traduzida como “um cântico mais apropriado para ser entoado do que para servir como fórmula confessional” — em referência ao Credo Niceno). (P. Schaff, The Creeds of Christendom, 6. ed. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, (Revised and Enlarged), 1977, v. 1, p. 27 e Philip Schaff, History of the Christian Church, Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1996, v. 8, p. 351-352). Essa afirmação, no entanto, é contestada por Warfield (1851-1921), que considera a atribuição imprecisa e não representativa do pensamento de Calvino. (Veja-se: B.B. Warfield, The Biblical Doctrine of the Trinity: In: B.B. Warfield, The Works of Benjamin B. Warfield, Grand Rapids, MI.: Baker Book House, 2000 (Reprinted), v. 5, p. 199). De fato, embora Calvino fosse crítico quanto à autoridade infalível dos concílios, ele reconhecia o valor teológico do Concílio de Niceia, especialmente por sua defesa da doutrina da Trindade. Assim, é necessário cautela ao interpretar essa frase, pois ela pode sugerir uma rejeição que não corresponde à apreciação ponderada que Calvino demonstrava em relação ao conteúdo do Credo Niceno, desde que este estivesse em conformidade com as Escrituras.
[17]“Mas, por que citar a luta entre os concílios? Não há por que alguém murmure contra mim dizendo que, no caso de um conflito entre concílios, um deles é ilegítimo. Ora, como avaliaremos isso? Evidentemente, a não ser que eu esteja enganado, decidiremos se os decretos dos concílios são ortodoxos à luz das Escrituras, pois essa é a única regra segura para distingui-los.” (João Calvino, As Institutas, IV.9.9. Os Concílios devem ser analisados histórica (Quando foi realizado, qual a sua pauta, seu propósito, quem eram os participantes) e teologicamente: Deve ser avaliado biblicamente. As decisões dos concílios devem ser examinadas para verificar se são ou não referendadas pelas Escrituras. (João Calvino, As Institutas, IV.9.8). Somente quando o concílio é totalmente governado pela Palavra e pelo Espírito de Cristo, Este de fato preside o concílio (João Calvino, As Institutas, IV.9.1-2).
[18]“No segundo Concílio de Niceia, os bons pais que ali tomaram assento torceram esta passagem para provar que não basta ensinar a divina verdade nas igrejas, a menos que haja ao mesmo tempo quadros e imagens para confirmá-la. Esse foi um fragmento de ingenuidade muito vergonhoso e indigno de se mencionar, não nos fosse proveitoso saber que os que se propuseram infectar a Igreja de Deus com tal corrupção foram horrivelmente atingidos com o espírito de leviandade e estupidez.” (João Calvino, O Livro dos Salmos, São Paulo: Paracletos, 1999, v. 2, (Sl 48.9), p. 361). “Os frenéticos bispos gregos, no segundo Concílio de Nicéia, mui vergonhosamente perverteram esta passagem, quando tentaram por meio dela provar que Deus quer ser adorado através de imagens e pinturas. A razão que se apresenta para exaltar a Jehovah nosso Deus, e cultuar ante seu escabelo, contém uma antítese: ele é santo. Pois o profeta, ao santificar o nome do Deus único, declara que todos os ídolos dos pagãos são profanos; como se quisesse dizer: ainda que os pagãos reivindiquem para seus ídolos uma santidade imaginária, eles são, não obstante, meras inutilidades, uma ofensa e abominação. Alguns traduzem esta sentença assim: pois ele [o escabelo] é santo; mas à luz do final do Salmo transparecerá que o desígnio do profeta para este título era distinguir Deus de todos os ídolos.” (João Calvino, O Livro dos Salmos, São Paulo: Parakletos, 2002, v. 3, (Sl 99.5), p. 543). “Em referência a esta passagem, a nossa atenção é despertada à espantosa ignorância do Segundo Concílio de Nicéia, no qual os dignos pais fracos torceram-na como prova de idolatria, como se Davi ou Salomão ordenasse ao povo que erigissem estátuas a Deus e cultuassem-nas. Agora, quando as cerimônias mosaicas estão abolidas, adoramos ante o estrado dos pés de Deus, ao rendermos submissão reverente à sua Palavra e nos erguemos, com base nas ordenanças, para prestar-Lhe um genuíno culto espiritual. Sabemos que Deus não desce do céu imediatamente ou em seu caráter absoluto e que seus pés são afastados de nós e colocados em um estrado, devemos ser cuidadosos em subir a Ele por meio de degraus intermediários. Cristo é aquele não só em quem os pés de Deus repousam, mas em quem reside toda a plenitude da essência e da glória divinas; e nele devemos buscar o Pai. Ele desceu com este propósito: para que subíssemos ao céu.” (João Calvino, O Livro dos Salmos, São José dos Campos, SP.: Fiel, 2009, v. 4, (Sl 132.7), p. 422-423). Nas Institutas, I.11.14, discute sobre os supostos argumentos utilizados desse Concílio para o uso ode imagens na adoração a Deus.
[19]João Calvino, As Institutas da Religião Cristã: edição especial com notas para estudo e pesquisa, São Paulo: Cultura Cristã, 2006, v. 2, (II.4), p. 72.
[20]João Calvino, As Pastorais, São Paulo: Paracletos, 1998, (1Tm 3.16), p. 100.
[21] João Calvino, As Institutas, I.13.4.
[22] João Calvino, As Institutas, I.13.5.
[23]João Calvino, As Institutas, IV.8.16.
[24]João Calvino, As Institutas, I.13.2.
[25] Vejam-se, por exemplo: Catecismo de Heidelberg, Pergs. 35 e 48; A Segunda Confissão Helvética, Cap. XI; A Confissão Escocesa, Cap. VI; A Confissão Belga, Arts. 9,10,18,19.
[26] Mesmo teor da Perg. 36 do Catecismo Maior.
[27] Mesmo teor da Perg. 37 do Catecismo Maior.
[28]João Calvino, As Institutas, II.12.3.
[29] João Calvino, O Evangelho segundo João, São José dos Campos, SP.: Editora Fiel, 2015, v. 1, (Jo 2.17), p. 100.
[30] John Owen, A Glória de Cristo, São Paulo: Publicações Evangélicas Selecionadas, 1989, p. 24.
[31]Herman Bavinck, Dogmática Reformada: O pecado e a salvação em Cristo, São Paulo: Cultura Cristã, 2012, v. 3, p. 279.
[32]Vejam-se: João Calvino, As Institutas, I.13.21; III.21.4; João Calvino, As Institutas da Religião Cristã: edição especial com notas para estudo e pesquisa, São Paulo: Cultura Cristã, 2006, v. 3, (III.8.1), p. 38; João Calvino, Exposição de 2 Coríntios, São Paulo: Edições Paracletos, 1995 (2Co 12.4), p. 242-243; João Calvino, Exposição de Romanos, São Paulo: Paracletos, 1997, (Rm 9.14), p. 330; João Calvino, Romanos, 2. ed. São Paulo: Parakletos, 2001, (Rm 11.33), p. 426-427.
[33] “As mentes dos santos devem ocupar-se com esta persuasão – que o conhecimento de Cristo é por si só amplamente suficiente. E, inquestionavelmente, esta é a chave que pode fechar a porta contra todos os erros vis. Pois qual é a razão pela qual a humanidade se envolveu em tantas opiniões ímpias, em tantas idolatrias, e tantas especulações insensatas, senão isto – que, desprezando a simplicidade do evangelho, se aventuraram a aspirar algo mais elevado? Todos os erros, consequentemente, que se encontram no papado devem ser tidos como procedentes desta ingratidão – que, não descansando satisfeitos tão-somente com Cristo, se entregaram a doutrinas estranhas” (João Calvino, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, São José dos Campos, SP.: Fiel, 2010, (Cl 2.4), p. 533).
[34] Veja-se: J. Calvino, As Institutas, São Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1985, II.14.3.
[35]João Calvino, Exposição de Hebreus, São Paulo: Paracletos, 1997, (Hb 8.5), p. 209.
[36]G.C. Berkouwer, A Pessoa de Cristo, São Paulo: ASTE, 1964, p. 72.
[37] G.C. Berkouwer, A Pessoa de Cristo, p. 76.
[38]P. Tillich, História do Pensamento Cristão, São Paulo: ASTE., 1988, p. 77.
[39] “Todos quantos pensam que conhecem algo de Deus à parte de Cristo inventam para si um ídolo no lugar de Deus” (João Calvino, Colossenses: In: Gálatas – Efésios – Filipenses – Colossenses, São José dos Campos, SP.: Fiel, 2010, (Cl 2.2), p. 532). “Fora de Cristo nada existe senão ídolos” (João Calvino, Efésios, São Paulo: Paracletos, 1998, (Ef 2.12), p. 68).