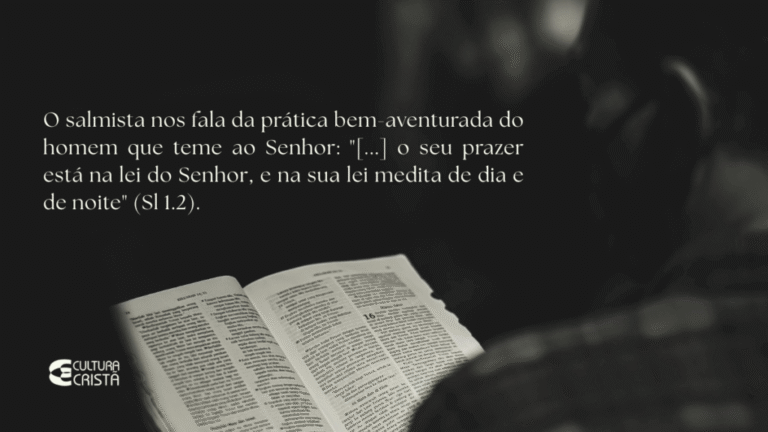Frankenstein e o teatro da glória de Deus
É hora de falarmos sobre Frankenstein. O spoiler de que este seria o filme indicado na primeira edição de 2026 já havia sido dado lá em dezembro. Agora, quero convidar você a olhar de modo reflexivo para o mais recente trabalho de Guillermo Del Toro. Um diretor há muito fascinado pelas fronteiras entre o humano…
É hora de falarmos sobre Frankenstein. O spoiler de que este seria o filme indicado na primeira edição de 2026 já havia sido dado lá em dezembro. Agora, quero convidar você a olhar de modo reflexivo para o mais recente trabalho de Guillermo Del Toro.
Um diretor há muito fascinado pelas fronteiras entre o humano e o monstruoso — com O Labirinto do Fauno sendo talvez o exemplo mais emblemático dessa sensibilidade — Del Toro, em sua mais recente adaptação para a Netflix, aprofunda esse fascínio e o conduz para reflexões que tocam temas profundamente cristãos, especialmente a natureza da criação, a dignidade humana e o poder transformador do perdão.
Ao revisitar o clássico de Mary Shelley (que, aliás, deveria ser leitura obrigatória para todos nós), Del Toro constrói uma obra repleta de personagens nada óbvios, que revelam nuances complexas ao longo da narrativa.
Entre eles, Elizabeth Harlander (Mia Goth) se destaca como o eixo mais sensível e espiritual do filme. Seu arco, marcado por pequenas descobertas e pela busca constante de ressignificar o cotidiano, revela um tema caro à tradição reformada: a busca do extraordinário no ordinário.
Mesmo corrompida pelo pecado, a criação ainda carrega vestígios da glória de Deus (Sl 19; Rm 1.20), e Elizabeth encarna essa percepção de maneira vívida. Diferente dos outros personagens que oscilam entre ambição, culpa ou desejo de controle, ela encontra sentido nas coisas simples: um gesto, o silêncio reconfortante, um objeto doméstico.
Del Toro, com seu olhar característico, ilumina esses momentos com delicadeza, quase como pequenas epifanias visuais, ressaltadas até mesmo no figurino da jovem, que, com cores vibrantes, se destaca entre os cenários mais sóbrios da obra. Em Elizabeth, vemos aquilo que Calvino chamaria de “o teatro da glória de Deus”: a beleza que não se revela no espetacular, mas na vida comum, naquilo que frequentemente passa despercebido, e que, ainda assim, aponta para o Criador.
Del Toro explora a tensão entre deformidade e valor intrínseco, recuperando o dilema moral presente na obra de Mary Shelley: a criatura, feita à imagem distorcida da imagem de outro, ainda assim carrega dignidade. Rejeitada e incompreendida, ela (a criatura) encarna o clamor daqueles que habitam as margens, revelando a incoerência de um mundo que idolatra a beleza enquanto ignora o próximo.
Essa tensão entre aquilo que o ser humano cria e a consequência moral que emerge dessa criação dialoga, inclusive, com outra obra clássica: O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Embora não haja conexão direta entre as duas histórias, ambas revelam a incapacidade humana de controlar aquilo que nasce de sua própria ambição, e expõem, cada uma à sua maneira, a verdade profundamente bíblica da natureza corrompida do homem, destacando uma dinâmica de culpa, responsabilidade e perdão.
Voltando para Frankenstein… Embora o roteiro nunca verbalize uma teologia do arrependimento, ele sugere que a restauração começa quando alguém reconhece seus limites e sua falha.
Para nós, cristãos, o perdão não é um ideal abstrato, mas uma necessidade fundamental que restitui relacionamentos e revela a graça. E o filme aponta para essa realidade: a reconciliação só é possível quando a arrogância dá lugar à humildade, quando Victor reconhece ser tão carente de graça quanto a sua criatura.
É nesse cenário que Elizabeth funciona como um contraponto moral. Ela vê beleza onde outros veem apenas falha. Enxerga pessoa onde muitos só percebem monstruosidade. Sua postura reflete o chamado cristão de contemplar a criação com olhos redimidos: perceber bondade no que é pequeno, encontrar propósito na rotina e acolher o outro com misericórdia.
Elizabeth é um testemunho silencioso contra a tentação moderna de buscar sentido apenas no extraordinário. E sua última interação com Frankenstein (a criatura) expressa exatamente isso. Para ela, o extraordinário já está no ordinário.
Aliás, outro personagem (o Blind Man)reforça essa perspectiva de maneira ainda mais impactante, lembrando-nos de que o extraordinário não está simplesmente no que vemos, mas em como interpretamos aquilo que nos é revelado.
O Frankenstein de Del Toro, assim como o livro que o inspira, não é uma obra cristã, mas permite uma leitura cristã reformada, rica e profundamente relevante. Pela lente de Elizabeth Harlander, o filme se torna um convite: voltar a enxergar a criação como um presente, a vida comum como um milagre e Deus, o nosso Criador, como o autor da verdadeira beleza.
Gabriela Cesario é jornalista do Brasil Presbiteriano

The post Frankenstein e o teatro da glória de Deus appeared first on Blog da Cultura Cristã.