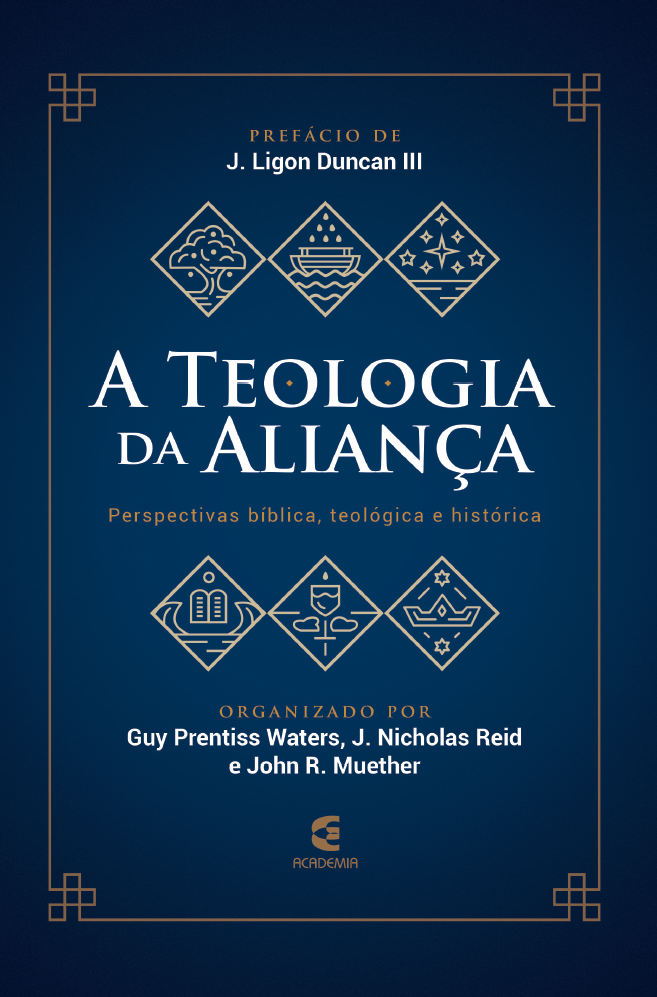Igreja em tempos de “brain rot” e consumo excessivo de conteúdos online
Ter mais de uma coisa boa não significa necessariamente ter algo melhor. E o que começa como uma coisa boa pode não continuar sendo bom. Esta é uma lição que tivemos que aprender e reaprender nos últimos anos, enquanto vivemos as rápidas mudanças nas tecnologias da comunicação digital. E nos causa vertigem ver como determinada…
Ter mais de uma coisa boa não significa necessariamente ter algo melhor. E o que começa como uma coisa boa pode não continuar sendo bom.
Esta é uma lição que tivemos que aprender e reaprender nos últimos anos, enquanto vivemos as rápidas mudanças nas tecnologias da comunicação digital. E nos causa vertigem ver como determinada ferramenta ou plataforma pode ter um efeito em sua primeira infância e outro efeito oposto em sua maturidade.
Mas talvez isso não deva ser tão surpreendente assim: escala e proporção são coisas que importam. Nosso corpo precisa de um pouco de sal, por exemplo, mas sal em excesso nos deixa doente. As tecnologias da comunicação têm um efeito semelhante no corpo político. A mesma ferramenta que, em pequenas doses, pode contribuir para o entendimento mútuo e o consenso também pode, quando adotada em larga escala, fomentar confusão entre as pessoas e antipatia.
Se nós, cristãos, quisermos nos manter firmes em meio a essas mudanças que nos desorientam, precisamos aprender a reconhecer essa realidade paradoxal e a trabalhar juntos para manter essas tecnologias tão potentes em seu devido lugar. No entanto, só conseguiremos fazer isso se o nosso senso de comunidade e de pertencimento fluir do ritmo da nossa vida como igreja, da nossa vida em comum, juntos. Em outras palavras, é o nosso próprio compromisso de viver como membros do corpo de Cristo que nos capacitará a servir a uma sociedade viciada em tecnologia e a chamá-la para um estilo de vida melhor.
Nicholas Carr articula bem essa dinâmica em seu livro mais recente, Superbloom: How Technologies of Connection Tear Us Apart [Superexplosão: Como as tecnologias feitas para nos conectar estão nos separando]. Segundo ele alerta, é um grave erro presumir “que a maneira como um sistema tecnológico complexo funciona no início de seu desenvolvimento será a mesma como funcionará à medida que amadurece”. No entanto, como “a história que contamos a nós mesmos sobre a internet, desde seus primórdios, era uma história de ‘democratização’”, muitos demoraram a reconhecer a facilidade com que a abundância de informações pode fomentar inimizade e desconfiança.
O argumento de Carr sobre os efeitos do excesso de conteúdo que jorra de nossas telas corrobora as percepções de Ivan Illich, católico que é crítico da tecnologia, e a quem Carr — estranhamente — nunca menciona em sua obra Superbloom. Na década de 1970, Illich propôs que a aplicação de tecnologias de estilo industrial a qualquer campo — educação, medicina, transportes, comunicação e assim por diante — seria demarcada por dois divisores de águas.
“No início”, explicou Illich, “novos conhecimentos são aplicados à solução de um problema claramente definido, e critérios científicos são aplicados para explicar a nova eficiência”. Tal sucesso gera grande otimismo, e essas melhorias iniciais são usadas para justificar “a exploração da sociedade como um todo a serviço” de alguma métrica demasiadamente simplista, como o conteúdo que é produzido e disseminado. Depois que se cruza a linha desse segundo divisor de águas, a busca por mais eficiência tecnológica não ajuda a melhorar a situação e, muitas vezes, causa novos problemas.
Um exemplo que podemos dar de uma época anterior — a época em que foram cunhados termos como consenso, brain rot [a deterioração mental ou intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdo online, especialmente quando considerado superficial e pouco desafiador, como memes e vídeos curtos] e até mesmo, como observa Carr, o termo mídia social — pode nos ajudar a perceber essa progressão. A imprensa desempenhou um papel fundamental na união dos colonos americanos e na orquestração de sua rebelião contra a Grã-Bretanha. Como disse o historiador estadunidense David Ramsay, em 1789: “Para o estabelecimento da independência dos Estados Unidos, a caneta e a imprensa tiveram mérito igual ao da espada”. E foi por isso que, alguns anos depois, a Sociedade Tipográfica da Filadélfia pôde declarar que a imprensa é “o túmulo da ignorância e da superstição”.
Após uma experiência tão positiva com a prensa manual, a industrialização da imprensa, no final da década de 1820, e de outras novas tecnologias da comunicação, principalmente o telégrafo, foram recebidas com fervor messiânico. A primeira mensagem enviada que cruzou o Oceano Atlântico, em 1858, terminava com uma conexão quase blasfema entre o advento dessa tecnologia e o advento de Cristo: “A Europa e a América estão unidas pelo telégrafo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, e boa vontade para com os homens.”
Esses sentimentos eram comuns. São típicos neste ensaio anterior de Horace Greeley para o New York Tribune: “O Telégrafo Magnético, que é literalmente o pensamento materializado e voa veloz, aniquilando por completo o espaço e adiantando-se em relação ao tempo, será estendido a todas as grandes cidades da União — de modo que uma rede nervosa de fios elétricos, entrelaçados com raios, se ramificará a partir do cérebro, que é a cidade de Nova York, para os outros membros desse corpo que estão distantes — para as cidades costeiras do Atlântico, Pittsburgh, Cincinnati, Louisville, Nashville, St. Louis e Nova Orleans.”
Como tinham certeza os arautos desta nova era da comunicação, o resultado seria a disseminação da verdade e do conhecimento. A reportagem do Tribune tratava o telégrafo como algo infalível, uma ferramenta que tornaria a “fraude e o engano jornalísticos… quase impossíveis”.
Hoje em dia, é difícil acreditar que alguém tenha pensado seriamente que desinformação e notícias falsas, e menos ainda as trivialidades sensacionalistas, seriam eliminadas pelo telégrafo — mas, até aí, não podemos criticar ninguém, pois foi há menos de 15 anos que acreditamos que o Twitter disseminaria a democracia por todo o Oriente Médio. Como eu disse, mudanças tecnológicas rápidas podem causar vertigem [mais do que mudança para melhor].
Uma das consequências mais notáveis das novas conexões que o telégrafo e a impressão industrial criaram é o que passamos a chamar de consenso: a experiência de um sentimento comum em toda a sociedade. O consenso, na verdade, é um conceito bastante novo. A palavra entrou na língua inglesa pela primeira vez em meados do século 19, referindo-se a uma nação ou a outro grupo em que as pessoas integrantes compartilhavam das mesmas sensações e opiniões, ao mesmo tempo.
À medida que o consenso se desenvolve — à medida que as pessoas passam a pensar e a sentir em uníssono, com uma velocidade e uma totalidade que só são possíveis por meio da comunicação de massa —, os perigos do pensamento de grupo tornam-se evidentes. Slogans políticos, memes e apelos sentimentais pulsam nessas redes e em nossa mente. E quando há uma exceção a essa uniformidade, alguma divergência que é desagradável ou até mesmo repugnante para a maioria, a experiência parece mais íntima e, portanto, mais desconcertante.
O exemplo mais óbvio desse desconcerto no século 19 é a questão da escravidão. Quando os nortistas liam ensaios a favor da escravidão ou os sulistas encontravam literatura abolicionista, seus sentimentos profundamente discordantes sobre a escravidão tornavam-se impossíveis de serem ignorados. Quando, na década de 1830, os abolicionistas do Norte coalharam o Sul com panfletos antiescravistas, o resultado disso não foi a persuasão dos sulistas nem o entendimento mútuo, mas sim tumultos, fogueiras e apelos para censurar a correspondência. Os sentimentos a favor da escravidão apenas se intensificaram.
Hoje, quando nossos feeds nos lembram constantemente o que nossos concidadãos e até mesmo nossos irmãos e irmãs cristãos pensam sobre imigração, vacinas ou questões relativas a gênero, o resultado geralmente não é uma compreensão mais profunda, mas sim uma antipatia visceral. As tecnologias de rede que possibilitam o consenso público também tornam a divergência persistente algo mais aparente e irritante.
Temos a tendência de nos concentrar nos efeitos individuais deletérios das tecnologias de comunicação digital: o livro anterior de Carr, The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains [Os superficiais: O que a Internet está fazendo com o nosso cérebro], é um clássico desse gênero. E, para os indivíduos, é possível fazer escolhas que neutralizem esses efeitos. Quando Henry David Thoreau alertou seus leitores de que dar atenção a notícias sensacionalistas causaria “brain rot” (termo eleito a Palavra do Ano pelo Dicionário Oxford em 2024), ele poderia ter recomendado como solução uma mudança no consumo de informação.
É mais difícil tratar dos problemas políticos ou culturais de uma sociedade hiperconectada porque estes exigem uma ação coletiva. Posso até ser capaz de melhorar meus próprios hábitos em relação a notícias, mas não posso escolher viver em um mundo em que o TikTok não existe.
Então, o que fazer com os estudos que Carr resume em Superbloom, que mostram que “histórias falsas ou enganosas têm 70% mais probabilidade de serem retuitadas do que relatos factuais”? E o que fazer sobre a informação de que as pessoas mais instruídas, e aquelas que acompanham as notícias mais de perto, também têm a compreensão mais distorcida dos acontecimentos contemporâneos? E sobre o fato de que a maioria de nós, quando se depara com “pontos de vista diferentes” online, os vê “não como oportunidades para aprender, mas sim como provocações a serem atacadas”?
Como Carr conclui, “Inundar a praça pública com mais informações oriundas de mais fontes” não vai “abrir a mente das pessoas nem gerar discussões mais ponderadas”. Nem sequer vai “tornar as pessoas mais bem informadas”.
O que torna o desafio de uma mudança significativa ainda mais difícil é que o ceticismo do nosso mundo hiperconectado é frequentemente algo corrompido ou cooptado. Carr dá o exemplo particularmente irônico de Frank Walsh, que certa noite deu um tiro na TV da família — o que só fez dele uma sensação, da noite para o dia. Na semana seguinte, ele ganhou uma TV nova em um reality show.
Nós nos acostumamos ao fenômeno de ver “políticos [que] usam as redes sociais para expressar seu desdém pelas redes sociais, [e] depois ficam de olho na contagem de curtidas”. Em escala social, será que isso é realmente o melhor que podemos fazer?
Carr conclui sua obra Superbloom propondo que busquemos maneiras de nos desviar dessa rota e formar comunidades alternativas na periferia dessas redes digitais. “Talvez a salvação, se essa não for uma palavra forte demais, esteja em atos pessoais e deliberados de excomunhão”, escreve ele, “em assumir posições, primeiro como indivíduos e, depois, talvez, em conjunto; contudo, não [devemos nos posicionar] fora da sociedade, e sim à margem dela; não além do alcance do fluxo de informação, mas além do alcance de sua força liquefatora”.
Ele tem razão, mas é o aspecto relativo à união nessa resposta que é particularmente vital, pois as tecnologias da comunicação, por sua própria natureza, apresentam desafios que exigem respostas de cooperação. O que Carr não diz é que já existem comunidades e até instituições, por todo o país, que estão singularmente preparadas para enfrentar esse desafio: são elas as famílias, as escolas e as igrejas cristãs.
Nós devemos assumir a liderança no sentido de incorporar formas alternativas de comunicação e de nos sentir juntos, unidos. Precisamos praticar o desenvolvimento de um tipo diferente de consenso, o consenso dos membros da igreja que se conformam à mente de Cristo (Romanos 12.2; 1Coríntios 2.16), e não o consenso dos membros de uma sociedade cada vez mais secularizada, centrada em Nova York e no Vale do Silício. Esse tipo de consenso é a estabilidade de que precisamos para evitar novas ondas de vertigem, à medida que o dramático desenvolvimento tecnológico, particularmente em torno da inteligência artificial, continua a todo vapor.
A ação comunitária na escala de uma igreja ou de uma instituição cristã pode assumir muitas formas. Podemos começar com algo como cultos sem telas. Famílias e pequenos grupos podem promover discussões sobre livros como “Tech-Wise Family” [Família bem informada sobre o uso de tecnologias], de Andy Crouch, e depois criar uma versão própria do Postman Pledge [declaração de intenções (inspirada nas ideias do crítico de mídia e educador Neil Postman) assinada por pais que aspiram criar um ambiente com menos tecnologia para sua família e que reconhecem que mudar o ethos de uma comunidade exige um esforço comum — daí o compromisso mútuo]. Estudantes podem criar clubes ludistas [os ludistas são uma nova tribo de jovens que tem entre 16 a 24 anos, e preferem viver offline e aproveitar a vida real]. Escolas cristãs podem se inspirar nas comunidades e oficinas Bruderhof [Bruderhof é um movimento cristão anabatista comunitário, fundado na Alemanha, em 1920. Tem comunidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Paraguai e Austrália], que subordinam as tecnologias a compromissos compartilhados.
Podemos observar e oferecer exemplos que sejam um testemunho da possibilidade de um consenso distintamente cristão, mesmo nesta era digital e conectada. Ainda é possível que os cristãos pensem e sintam em conformidade com a nossa participação em uma comunidade alternativa. Ainda é possível que a nossa vida, na qual consistentemente compartilhamos as Escrituras, a comunhão e a oração, forme em nós um consenso que seja vinculado não a um público massificado, mas sim ao corpo de Cristo.
Jeffrey Bilbro é professor associado de inglês no Grove City College e editor-chefe da Front Porch Republic [movimento e site dedicado à renovação da cultura americana, que fomenta o desenvolvimento de comunidades locais fortes. Enfatiza o localismo, a importância do lugar, da cidadania e da renovação das economias, da agricultura e da vida comunitária locais]. Seu livro mais recente é Words for Conviviality: Media Technologies and Practices of Hope [Palavras em prol da convivialidade: tecnologias de mídia e práticas de esperança] .
The post Igreja em tempos de “brain rot” e consumo excessivo de conteúdos online appeared first on Christianity Today em português | Cristianismo Hoje.